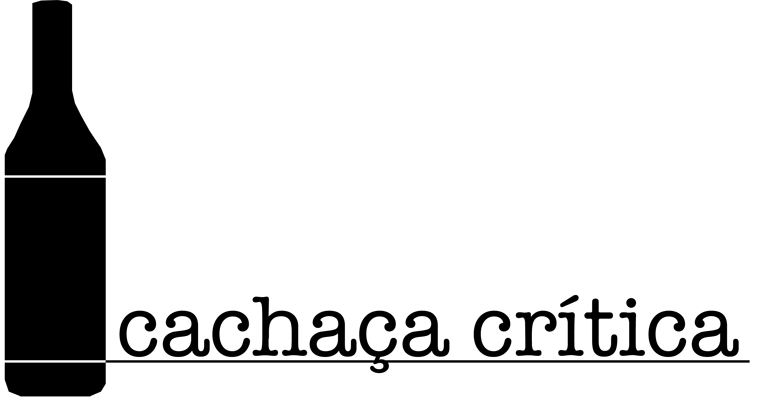Falar de Israel é muito difícil para mim. Um misto de emoções se confunde à análise política. Cresci num lar judaico, assim como o colégio e como a maioria das amizades que tinha. Lembro-me das bandeirinhas azuis e brancas desde cedo - elas representavam o orgulho de todos nós. Apesar dos traumas que levaram nossas famílias a fugir da Europa ou de países árabes, agora tínhamos um lar.
Na juventude fui ativo no movimento sionista de inspiração socialista, com dezenove anos fui passar um ano de intercâmbio na terra prometida, dividido entre o deserto em Beer Sheva e a Babilônia que é Jerusalém. O tempo me fez abandonar esse caminho. Segui como um personagem de Moacyr Scliar que, após ficar a vida inteira com uma mala pronta para fugir em caso de perseguição, é roubado e, assim, “já não podia mais fugir”. Segui o caminho do próprio autor e abrasileirei meu judaísmo acomunado sem perder a ternura.
Israel mistura as mais diferentes inspirações político-filosóficas. É uma democracia que toma conta dos que não sabem votar/decidir “direito”; sua sociedade é rica e desigual, mas isso não importa quando somos todos iguais, ou mais iguais. O país foi berço de uma impressionante geração de experiências de coletivismo voluntarista com inspiração em ideias socialistas de imigrantes do leste europeu no início do século XX, em um quase autonomismo colonizador que se desenvolveu junto ao movimento nacionalista. Em Israel, esquerda e direita têm significados diferentes dos que entendemos - esquece-se da França e passa-se a tomar posicionamento em relação à guerra, negociar ou não negociar -, e a contradição segue quando, historicamente, a esquerda faz a guerra e a direita faz acordos de paz.
Pela minha perspectiva é difícil falar sobre a Palestina, estive tão perto e tão longe. Conheci Sderot, a cidade mais atingida por mísseis em Israel. Quando vi o muro, o coração por algum motivo gelou, assim como parece ter acontecido à gente que vive ali. Ao frequentar a cidade antiga de Jerusalém atrás dos quitutes dos árabes, me empolguei com a ideia de viajar à Octoberfest de Ramallah. A festa era patrocinada pela única cerveja dos territórios ocupados, que, segundo o fabricante, fecharia as portas em breve pela impossibilidade de exportar seu produto depois de aumentarem as restrições de segurança. Mas ficou tudo no sonho - o medo do outro era gigante.
A inclinação socialista do meu movimento, que normalmente se limitava ao coletivismo, me levou a conhecer os beduínos. Fui professor de inglês numa colônia de férias na aldeia de Hura, onde nos comunicávamos em hebraico para ensinar a terceira língua das crianças, que respeitavam, mas pouco confiavam nos voluntários judeus. Foi na mesma época que estourou a segunda guerra do Líbano, em julho de 2006. Nunca vou esquecer o dia em que os soldados foram sequestrados e deu-se início ao conflito, ou depois, quando meus alunos foram alvos de bullying por serem árabes num parque de diversões, ou quando os mesmos alunos cantaram a música do Hezbolah pra mim e pros meus colegas como vingança. Sob conselhos de uma ótima israelense que trabalhava com os beduínos, entendi, depois do sofrimento, que eu estava aprendendo ali e quem sofria eram eles.
Em Israel tenho família e amigos. O mais próximo deles me enche o saco constantemente pra ir visitá-lo, conhecer sua casa, sua vida. Não volto desde 2006. Já fiz planos, mas admito a dificuldade extra. Meu carinho continua, mas vejo aqueles que moram lá anestesiados em relação ao conflito, querendo apenas continuar a viver suas vidas em paz e tranquilidade e deixando ao exército a tarefa de resolver o “problema palestino”. A narrativa colonialista de inferiorização do outro justifica as atrocidades contra os palestinos, que, taxados de terroristas, ficam de fora do espectro dos direitos humanos dos valores de uma sociedade moderna ocidentalizada, como proclamada pelos próprios israelenses.
A brilhante Hanna Arendt, outra judia desraigada do nacionalismo, me contou sobre as origens do totalitarismo e eu vi uma sociedade altamente militarizada na qual a ideologia da unidade nacional ficou acima do bem e do mal. Depois ela me repetiu seus conselhos a respeito do julgamento de Eichman, lembrou que punir coletivamente não é justiça e versou sobre a banalidade do mal quando a vida dos outros é despida de valor. Parece um pesadelo, mas a realidade é que meus laços de afeto com Israel se esgarçam com a barbárie da matança.
Na juventude fui ativo no movimento sionista de inspiração socialista, com dezenove anos fui passar um ano de intercâmbio na terra prometida, dividido entre o deserto em Beer Sheva e a Babilônia que é Jerusalém. O tempo me fez abandonar esse caminho. Segui como um personagem de Moacyr Scliar que, após ficar a vida inteira com uma mala pronta para fugir em caso de perseguição, é roubado e, assim, “já não podia mais fugir”. Segui o caminho do próprio autor e abrasileirei meu judaísmo acomunado sem perder a ternura.
Israel mistura as mais diferentes inspirações político-filosóficas. É uma democracia que toma conta dos que não sabem votar/decidir “direito”; sua sociedade é rica e desigual, mas isso não importa quando somos todos iguais, ou mais iguais. O país foi berço de uma impressionante geração de experiências de coletivismo voluntarista com inspiração em ideias socialistas de imigrantes do leste europeu no início do século XX, em um quase autonomismo colonizador que se desenvolveu junto ao movimento nacionalista. Em Israel, esquerda e direita têm significados diferentes dos que entendemos - esquece-se da França e passa-se a tomar posicionamento em relação à guerra, negociar ou não negociar -, e a contradição segue quando, historicamente, a esquerda faz a guerra e a direita faz acordos de paz.
Pela minha perspectiva é difícil falar sobre a Palestina, estive tão perto e tão longe. Conheci Sderot, a cidade mais atingida por mísseis em Israel. Quando vi o muro, o coração por algum motivo gelou, assim como parece ter acontecido à gente que vive ali. Ao frequentar a cidade antiga de Jerusalém atrás dos quitutes dos árabes, me empolguei com a ideia de viajar à Octoberfest de Ramallah. A festa era patrocinada pela única cerveja dos territórios ocupados, que, segundo o fabricante, fecharia as portas em breve pela impossibilidade de exportar seu produto depois de aumentarem as restrições de segurança. Mas ficou tudo no sonho - o medo do outro era gigante.
A inclinação socialista do meu movimento, que normalmente se limitava ao coletivismo, me levou a conhecer os beduínos. Fui professor de inglês numa colônia de férias na aldeia de Hura, onde nos comunicávamos em hebraico para ensinar a terceira língua das crianças, que respeitavam, mas pouco confiavam nos voluntários judeus. Foi na mesma época que estourou a segunda guerra do Líbano, em julho de 2006. Nunca vou esquecer o dia em que os soldados foram sequestrados e deu-se início ao conflito, ou depois, quando meus alunos foram alvos de bullying por serem árabes num parque de diversões, ou quando os mesmos alunos cantaram a música do Hezbolah pra mim e pros meus colegas como vingança. Sob conselhos de uma ótima israelense que trabalhava com os beduínos, entendi, depois do sofrimento, que eu estava aprendendo ali e quem sofria eram eles.
Em Israel tenho família e amigos. O mais próximo deles me enche o saco constantemente pra ir visitá-lo, conhecer sua casa, sua vida. Não volto desde 2006. Já fiz planos, mas admito a dificuldade extra. Meu carinho continua, mas vejo aqueles que moram lá anestesiados em relação ao conflito, querendo apenas continuar a viver suas vidas em paz e tranquilidade e deixando ao exército a tarefa de resolver o “problema palestino”. A narrativa colonialista de inferiorização do outro justifica as atrocidades contra os palestinos, que, taxados de terroristas, ficam de fora do espectro dos direitos humanos dos valores de uma sociedade moderna ocidentalizada, como proclamada pelos próprios israelenses.
A brilhante Hanna Arendt, outra judia desraigada do nacionalismo, me contou sobre as origens do totalitarismo e eu vi uma sociedade altamente militarizada na qual a ideologia da unidade nacional ficou acima do bem e do mal. Depois ela me repetiu seus conselhos a respeito do julgamento de Eichman, lembrou que punir coletivamente não é justiça e versou sobre a banalidade do mal quando a vida dos outros é despida de valor. Parece um pesadelo, mas a realidade é que meus laços de afeto com Israel se esgarçam com a barbárie da matança.